Sobre os namorados brasileiros
- SE VOCÊ QUISER LER ESTE TEXTO EM SEU IDIOMA, PROCURE A OPÇÃO "TRADUTOR" (TRANSLATOR) NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO DA TELA -
12 de junho é o dia dos namorados no Brasil. Os leitores deste blog de outras nacionalidades devem estar achando esquisito: 'Mas o dia dos namorados não é dia 14 de fevereiro?'. Pois é sobre isso que discorrerei na postagem de hoje.
Em nossos países vizinhos, na Europa e nos Estados Unidos comemora-se, no dia 14 de fevereiro, o dia dos namorados, que é, originalmente, o dia de São Valentim. Porque será, então, que o Brasil, país que ainda mantém uma cultura de colônia dos países ocidentais do norte, não importou esta tradição? A pergunta se torna ainda mais relevante quando registra-se a adoção, de uns tempos para cá, da festa de Halloween, no dia 31 de outubro, festa de tradição celta, escocesa e irlandesa, que parece ter caído de paraquedas no Brasil devido à influência da cultura estadunidense, na qual tal festa tem grande relevância (devido ao grande número de descendentes de irlandeses naquelas bandas e quase nenhum por aqui). Porque será que não imitamos também o 'Valentine's day'?
Suspeito que algo da ordem de uma verdade histórica, no sentido freudiano, se impõe aí. Já no fim de sua obra e vida, em "Construções em análise" (1937) e Moisés e o monoteísmo (1938), Sigmund Freud trabalhou com duas noções, operadas por ele como diferentes (e talvez opostas): verdade histórica e verdade material. Por verdade material Freud parece querer sinalizar o que costumamos chamar de fatos, dados, registros compartilhados por uma comunidade e que são tratados como uma realidade externa ao sujeito, de modo inquestionável e objetivado.
Já na verdade histórica Freud parece querer indicar que há algo de subjetivo. Com tal termo o que se indica é a realidade da fantasia, a realidade psíquica como tendo também o estatuto de uma verdade. Uma verdade que não se refere aos fatos, mas ao sujeito; é a revelação de alguma coisa referente ao sujeito. Esta verdade é histórica no sentido de que os fatos não fazem uma história; a história é um modo de tecer laços entre fatos, ela implica uma interpretação, implica a concatenação de eventos através de uma construção, de uma fantasia. E esta construção, esta fantasia, é invenção do sujeito e por isso faz aparecer sua verdade.
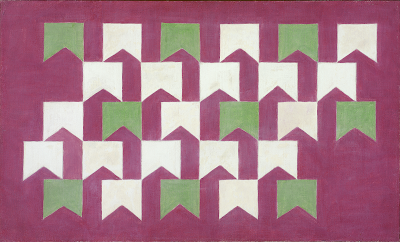 |
| Bandeiras brancas e verdes (Alfredo VOLPI, 1988) é um bom exemplo do esforço do Brasil moderno de recodificar o Brasil rural, caipira |
Porém, os dois artigos de Freud mencionados acima não se orientam a pensar o sujeito de modo a destacá-lo artificialmente da coletividade. Ao contrário, em ambos, Freud é claro quanto a argumentar que a invenção, a construção de fantasias não é necessariamente um trabalho de um sujeito identificado ao indivíduo. É um trabalho de uma cultura; os mitos, as lendas, as narrativas e rituais de cada cultura são sustentados por verdades históricas, ou seja, têm em sua base a atuação, a repetição de fantasias fundamentais de determinados coletivos, o que, aliás, permite justamente dizer que ali há um certo tipo de cultura e não outro.
Nossa celebração do dia dos namorados no 12 de junho talvez seja algo assim: um ritual que porta certa verdade histórica (repito: verdade histórica, em psicanálise, não diz respeito a fatos, mas a um conjunto de fantasias coletivas).
Porque 12 de junho? Ao que parece rasteiramente, foi uma jogada de marketing, em 1949, para aquecer o comércio nesta época do ano; empreendida por ninguém menos que João Dória, pai do atual não candidato à presidência da república pelo PSDB, João Dória Filho. Mas porque o Dória Pai não utilizou o 14 de fevereiro, afinal, esta não se trata de uma família muito avessa às influências norte-americanas, não é mesmo? Ou podemos, ainda, perguntar: Porque será que esta jogada de marketing 'pegou'?
O slogan da campanha publicitária de João Dória era o seguinte: "Não é só com beijos que se prova o amor". Aparentemente, o subtexto comercial era: "É com presentes (comprados), também, que se prova o amor". Mas há algo além disso, creio. A virada dos anos 40 para os anos 50 é um momento importante de um processo que ocorreu ao longo do século XX e se tornou muito acelerado a partir dos anos 60: o êxodo rural para as grandes cidades, e dentre elas destaca-se obviamente a São Paulo dos Dória. Trata-se da Era Vargas, ou seja, de um período de tentativa de quebra da tradição de uma economia rural no país para a instalação de um capitalismo industrial. São Paulo se tornou o centro industrial e econômico do país naquele momento de uma vez por todas, ao que parece; e foi ali que se buscou transformar o sertanejo radicado na cidade em um indivíduo moderno, proletário e consumidor.
 |
| Cenário típico de Festa Junina Brasileira |
Na cultura rural brasileira, tradicional, caipira, 12 de junho é relacionado às festas juninas. É a véspera do dia/festa de Santo Antônio, o santo casamenteiro, de modo que instituir o dia dos namorados nesse dia acena para certa tradição, inserindo-a na lógica do capitalismo. É como se fosse posta uma camada comercial sobre um solo mais tradicional, pré-moderno. Mas talvez a tradição mais antiga, mais arraigada, é quem deu força à manutenção da data como dia dos namorados, ela portaria, quiçá, a verdade histórica do nosso dia dos namorados. Se for isso mesmo, entende-se que o slogan "Não é só com beijos que se prova o amor" esconde um sentido mais antigo, não comercial, ligado à data: Não é só com os beijos de namorados que se prova o amor; na tradição, o amor deve dar em casamento - que, além de pacto simbólico é, historicamente, o ritual que sublinha que o laço possa se consumar em sexo com a autorização da comunidade.
Fazer da véspera do dia de Santo Antônio o dia dos namorados dá um sentido diferente à celebração que ocorre no dia de São Valentim. São Valentim tentou, como cristão do período heroico, fomentar o casamento dos jovens quando o Império Romano via nisso um obstáculo à exigência de alistamento militar obrigatório; mas o que o fez o 'santo dos namorados' foi mesmo, após ter sido preso como subversivo, ter mantido correspondência através de cartas de amor com a moça por quem estava apaixonado. De certo modo, São Valentim experimentava o amor cortês avant la lettre.
O amor cortês como costumamos pensá-lo foi uma prática instituída no meio da Idade Média, por volta do século XI, principalmente na Provença. Cartas, canções, poesias, eram escritas pelo cavaleiro apaixonado (ou por seu menestrel) à dama que fazia seu coração bater forte, uma nobre de uma Casa mais poderosa, que parecia inatingível, inconquistável, ora porque já era casada, ora porque justamente pertencia a uma camada social superior que não via valor em subalternos.
 |
| Iluminura representando cena de amor cortês: O amante sendo içado pela Dama (Johannes HANDLAUB, 1305-40) |
A galanteria com que os apaixonados se referiam, idealizavam, idolatravam, exaltavam a dama diferia demais do modo como, em geral, mesmo os nobres, tratavam as mulheres. Norbert Elias (1939) sinaliza que entre os nobres com terras não muito poderosos (a maioria da nobreza), as mulheres eram costumeiramente espancadas, utilizadas como objeto sexual à revelia de sua vontade e desligadas da administração dos feudos, sem serem tratadas com os cuidados com que hoje significamos o amor. Era o nobre sem terras quem se tornou a condição do indivíduo apaixonado do amor cortês: sem terras, eles se ofereciam como vassalos dos nobres mais poderosos para servi-los, desenvolvendo uma subjetividade de bajulador, adulador, figura humilhada que se dedica a adorar os mais poderosos para receber, em troca, alguma dádiva. É nesse contexto que uma mulher nobre - na condição de ser de uma Casa superior e, assim, inacessível como cônjuge segundo os códigos da nobreza da época - era adorada; havia uma relação de poder implícita na arte do amor cortês que estabelecia dois personagens. Em outras palavras, o namorado comemorado no dia de São Valentim é um apaixonado que idealiza a mulher, na condição de mantê-la distante como puro objeto de adoração, mas de não consumação do encontro sexual.
Não por acaso, Jacques Lacan, em seu seminário sobre a ética da psicanálise, se referiu ao amor cortês dos trovadores do sul da França e dos Minnesänger alemães como uma prática sublimatória do desejo, um modo de expressar um desejo como impossível através da modelagem de um objeto como fugidio, sem deixar de viver um erotismo das pulsões parciais: a mão é adorada, o olhar, o cheiro, os cabelos etc. A mulher tornada impossível e idealizada faz sustentar o desejo como experiência da falta, na condição de ser esvaziada "de toda substância real" (LACAN, 1959-60, p.186). Por isso mesmo, sustenta Lacan, tal amor é sublimado: porque é privado do real, precisando o sujeito valer-se de um jogo simbólico-imaginário. Essa seria a versão lacaniana para a ideia freudiana de que a sublimação remete à dessexualização, ao afastamento da fonte sexual de todo investimento libidinal (FREUD, 1905).
Já o namorado da véspera do dia de Santo Antônio não é o namorado do desejo como falta. É o namorado que se apressa para casar no dia seguinte, ou que, no dia seguinte, faz promessas ao santo casamenteiro na esperança de que o encontro de fato se realize. O imaginário do namorado brasileiro é menos o do sofrente apaixonado em falta que goza do amor à distância, postergando infinitamente o encontro, e mais o daquele que se apressa para casar no dia seguinte dos votos declarados de amor, ou ao menos, para consumar a relação, tornar o sexo real.
 |
| Jorge Amado |
Três obras literárias brasileiras contemporâneas à instituição do dia dos namorados pelo deputado João Dória (em 1949) parecem endossar minha elucubração. Duas delas se apresentam como a verdade da crônica erótica brasileira, não sem algum idealismo escondido, do afã dos namorados em consumar o sexo o quanto antes, demonstrando que não faz muito nosso estilo cultivar o desejo como falta, e sim cultivar a experiência de prazeres carnais mais imediatos. Me refiro à obra de Jorge Amado, repleta de um erotismo voraz, incontrolado, que se consuma de modo transgressivo, não afeito às restrições que o grupo social, o tempo ou a moral cobram. Os exemplos são muitos, de Gabriela, cravo e canela (1958) passando por Dona Flor e seus dois maridos (1966) a Tieta do agreste (1977), se vê isso aos montes nos romances do escritor baiano.
A outra obra que corre nesse sentido é a de Nelson Rodrigues. O dramaturgo pernambucano nos mostra a mesma situação: uma tentativa da moral e dos bons costumes de frear os apaixonados que, de modo algum, recalcam sua sexualidade; ao contrário, a experimentam diretamente - sem sublimação -, mesmo que secretamente, sem esperar, sem tolerar o desejo como falta. O que vence é o deleite, o prazer, o erotismo da descarga sexual. Isso está em quase todas as peças teatrais de Rodrigues; a guisa de exemplo menciono nominalmente Vestido de noiva (1943), Perdoa-me por me traíres (1957) e Os sete gatinhos (1958).
 |
| Nelson Rodrigues |
Aliás, na obra de ambos há sempre personagens que exigem a observação do pudor, da honra, da continência, da aceitação da falta, - numa palavra: o amor idealizado da galanteria cortês -; mas estes personagens são derrisórios. Ou são cômicos, ou são falsos moralistas, ou sua seriedade é simplesmente infeliz. O moralismo do próprio Nelson Rodrigues não é expresso como um idealismo que apaga o que é podre, mas como um idealismo que revela como toda a moral cotidiana nunca está à altura do ideal, que somos humanos de carne e sexo, e que o ideal é necessariamente exceção.
O terceiro artista é Vinícius de Moraes. Parte importante de sua poesia indica a mesma verdade histórica a respeito do namorado, mas pelo negativo. Em sua poesia, a distância da namorada, a distância da mulher idealizada não é vivida como a erótica do amor cortês, como o cultivo da falta como prova de amor, como delícia a mais no amor. Não, em Vinicius de Moraes, a distância do objeto de amor é experimentada como melancólica, como o risco do desejo morrer e da vida perder sentido. Chega de saudades! Às avessas, sua poesia e música parece indicar que a felicidade no amor precisa do encontro no meio de tanto desencontro, o laço tem de ser vivido nos beijinhos e nos abraços, no sexo, e não na falta. Soneto de devoção (MORAES, 1937), Soneto de Carnaval (id., 1939), Chega de saudades (JOBIM/MORAES, 1958) ou Garota de Ipanema (id., 1962) são bons exemplos do que quero dizer.
No Brasil, assim, namorar foi mais valorizado como correr para as delícias do sexo do que cultivar a distância faltosa e sublimatória do enlace sexual. O desejo do namorado brasileiro é um desejo em ato mais do que um ato em suspensão. Por enquanto esta ideia é apenas uma hipótese a ser testada. Aguardo comentários dos leitores.
 |
| Vinícius de Moraes |



Achei muito bom, nunca tinha parado pra pensar no pq dessa data e faz todo sentido o último parágrafo
ResponderExcluirFaz sentido a mim também. Mas creio que precisemos de mais elementos que sustentem ou refutem esta hipótese até fechar a questão. Obrigado
Excluir