COVID-19 e literatura
- SE VOCÊ QUISER LER ESTE TEXTO EM SEU IDIOMA, PROCURE A OPÇÃO "TRADUTOR" (TRANSLATOR) NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO DA TELA -
Nesta semana tive um interessante encontro com professores de um colégio do Rio de Janeiro para conversarmos sobre os traumas da pandemia e seus efeitos sobre o retorno às aulas presenciais. Naquele encontro me foi pedido que eu desse sugestões de como trabalhar o trauma das mortes por COVID-19 com os alunos. Apesar de achar que os professores de crianças e adolescentes são muito mais sagazes que eu para inventar um jeito de trabalhar este difícil tema, não me furtarei ao convite e o que segue abaixo são sugestões para aulas de literatura, mas não só: são sugestões de leitura para qualquer um, na verdade. Os nomes sugeridos são: Augusto dos Anjos, Graciliano Ramos, Miguel Falabella, William Shakespeare, Oscar Wilde e Thomas Mann. Portanto, tem literatura para todos os gostos aqui.
 |
| Augusto dos Anjos |
Para seguir com minha proposta, cabe, antes, um pouco de teoria.
Em Além do princípio do prazer (1920), Freud aborda o tema do trauma, por conta da quantidade considerável de pacientes que sofriam de neuroses traumáticas que passaram a chegar aos consultórios dos psicanalistas naquele momento histórico, tendo em vista acidentes ferroviários, traumas de infância, mas principalmente os traumas causados pela Primeira Guerra Mundial - além da pandemia de Gripe Espanhola que levou sua própria filha Sophie aos 26 anos. Ironias históricas: eu mesmo, enquanto escrevo estas linhas, estou com a velha Gripe Espanhola, que agora não causa mais aquela destruição de cem anos atrás.
A partir das reflexões neste ensaio, somadas ao que se desenvolve em Inibições, sintomas e angústia (FREUD, 1926), pode-se dizer que a teoria do trauma freudiana ali apresentada é a seguinte: A pequena criança experimenta um desamparo fundamental acompanhado de uma insuportável angústia real diante daquilo que ela avalia como perigos que é incapaz de dominar (sejam os perigos externos, seja a pressão de sua agitação pulsional); isto é o trauma. Cada situação, ao longo da vida, em que o sujeito experimenta algo que ele não consegue dominar, prever, compreender, responder; cada situação que se impõe de modo acachapante, o remete ao seu desamparo e, assim, é um novo trauma. Em geral, desenvolvemos defesas contra ele - e, de certo modo, todo o desenvolvimento psíquico se dá como tentativas de construir novas defesas psíquicas contra os traumas: elaborações dos traumas que nos organizam psiquicamente de novo, diante da nova realidade, para que voltemos a buscar prazer e evitar o desprazer.
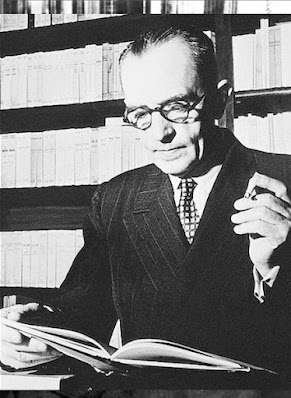 |
| Graciliano Ramos |
No ensaio de 1920 supracitado Freud descreve uma tentativa de elaboração do trauma no jogo infantil: um bebê - seu neto -, diante da situação de saídas da mãe de perto de seu berço e de seu quarto, com o tempo, passou a brincar com um carretel. A brincadeira era assim: jogava o carretel por entre as grades do berço emitindo o som 'Ó-ó-ó-ó' (que Freud escutou como 'Fort' - longe, em alemão), recuperava o carretel e dizia 'Daaaaa' (aqui, em alemão). Freud interpreta que, diante da situação de desamparo e angústia, necessariamente traumática, de afastamento da mãe, sem ainda compreender que e quando ela retornará, de modo que o horror se impõe, o bebê estava, através da brincadeira, tentando elaborar o trauma: antes o viveu passivamente, agora era ele quem ativamente fazia a mãe (simbolizada no carretel) ir e vir de acordo com sua vontade. Sair da passividade da experiência para a atividade é já uma elaboração primitiva. Freud supõe ainda que o jogar ativamente o carretel pode, aliás, ganhar significações que o puro trauma não tornava possível; a criança se vinga da mãe mandando ela embora, depois repara seu ódio buscando-a de volta. O jogo infantil se torna, assim, referência paradigmática, no campo psicanalítico, para a elaboração dos traumas - e, foi a partir daí que, por exemplo, Melanie Klein desenvolveu toda sua clínica e sua teoria (KLEIN, HEIMANN, ISAACS & RIVIÈRE, 1956).
 |
| Miguel Falabella |
O jogo infantil, como se pode ler na minha postagem anterior, Get Back: de volta ao infantil, é também o ponto de partida para Freud pensar a experiência criativa e, em última instância, a artística. Elaborar é criar. Mas em Além do princípio do prazer, em seguida a discutir a experiência de criar, Freud comenta também a fruição estética. Ele se pergunta porque nós nos interessamos em fruir de obras de arte que nos despertam angústia e sofrimento, como as tragédias gregas, por exemplo. Se repararmos bem, é comum encontrarmos em obras literárias, no teatro ou no cinema narrativas cheias de sofrimento, mortes, doenças, violência, dentre outras vivências traumáticas. Porque será que queremos ler e ver isso, e não somente imagens agradáveis?
A resposta de Freud é que a fruição estética destes traumas apresentados na arte nos auxilia a elaborar nossos próprios traumas, a construir sentido para eles, a nos acostumar com o que outrora foi assustador e perturbador, a criticar, pensar e, quem sabe, superar tais dores. Transformar em discurso, em narrativa, é, do ponto de vista psicanalítico, tratar o que antes não tinha palavras e imobilizava, numa palavra, traumatizava. Tal como o bebê e seu 'Fort-Dá', elaboramos o traumático ao falar, escrever, utilizar da linguagem como um possível instrumento de elaboração e amparo.
A pandemia de COVID-19 matou muita gente, dentre elas, pessoas que conhecemos, dentre estas, pessoas que amamos. Fazer o luto destas mortes é elaborar o trauma destas perdas; isso nem sempre é fácil - e se torna mais difícil nas atuais circunstâncias porque: a) muitas mortes e enterros ocorreram sozinhas no hospital e sem rituais fúnebres, o que dificulta a elaboração da perda (o ritual coletivo é um modo de amparo importante), b) todos nós estamos mais ou menos vulneráveis diante desta doença cujos índices de contaminação voltaram a subir, c) ocorreram diversas mortes em relativamente pouco tempo, d) grupos negacionistas sustentam discursos que silenciam quem quer falar da dor da perda - e silenciar é impedir de usar as palavras para elaborar o luto e o interlocutor como possível amparo.
 |
| William Shakespeare (John TAYLOR, fim do século XVI) |
Tanto a literatura brasileira quanto a ocidental já nos ofereceram diversas obras, clássicas ou não, que ajudam a tentar elaborar as dores da perda que a morte ocasiona. Segue uma lista de 3 obras brasileiras e 3 estrangeiras, mas peço aos leitores que ampliem a lista de sugestões de livros a se trabalhar (podem listá-los nos comentários):
1) Eu (1912), o único livro de poemas de Augusto dos Anjos é atravessado de cabo a rabo pelo tema da morte e da decrepitude. Quase concomitante ao ensaio de Freud sobre o narcisismo (1914), a poesia de dos Anjos é visceral, literalmente: ela desfaz a imagem de um eu eterno, inquebrantável, que costumamos cultivar, que não quer pensar em sua própria morte - e, em contrapartida, nos apresenta um eu que, o tempo todo, tem consciência da transitoriedade do corpo, da morte que trabalha incessantemente por baixo da pele, e, ao mesmo, tempo, pensa a própria experiência da finitude relacionada aos grandes mitos cristãos de Céu e Inferno, Deus e o Diabo, da alma em oposição ao corpo, sem deixar de criticá-los, de se pôr como um estrangeiro que desconfia deles, continua a temer a própria morte e ter saudades de quem se foi. O livro auxilia a reconhecermos nosso próprio desamparo diante da fraqueza do corpo, da inevitabilidade da morte e, quem sabe, de poderes maiores como os supostos existentes Deus e o Diabo.
2) Vidas secas (1938), o clássico de Graciliano Ramos, parece nunca deixar de ser atual. A vida melancólica, quase sem pensar, puros atos do povo sofrido e destituído de sonhos do sertão nordestino, retratado de modo seco pelo narrador, nos apresenta o perigo do não conversar, da destituição do discurso e das narrativas quando a esperança é a primeira que morre. A vida vira sobrevida, uma vida morta, e a realidade psíquica, normalmente lugar de elaboração, prenhe de fantasias, se torna minúscula. Abandonar a possibilidade de conversar sobre a morte deixa a vida morta, seca. Ramos nos mostra isso, evidentemente, através de uma belíssima elaboração crítica - o que nós devemos também fazer com nossos traumas, parece ele convidar. Falar do ocorrido não é resignação, é dar realidade à experiência.
3) Mais leve que os outros dois livros, A partilha (2001), foi uma peça de teatro que se tornou filme e que, finalmente, resultou em livro de Miguel Falabella e Daniel Filho. Aqui já estamos no campo da comédia que é, aliás, um sinal de elaboração do luto. Já se é capaz de tratar do tema difícil da morte com humor porque já se está menos identificado com a perda, já se pode criticar o trágico da existência humana reinvestindo no prazer, apesar de tudo. E, no entanto, o texto não deixa de tocar numa experiência sempre difícil nas situações de perda: o espólio, a disputa, entre os vivos, não só dos bens, mas do amor do morto. Fazer circular o erotismo que outrora era vinculado ao morto para os pares, partilhá-lo, só se torna possível depois de muita conversa e repetições.
4) Agora, três obras internacionais e muito conhecidas. A primeira é já lugar comum, mas sempre genial: Hamlet (1599-1602), de William Shakespeare. Poderia, aliás, ser trabalhada em aulas de inglês também. O príncipe da Dinamarca não aceita a morte de seu pai, é assombrado pelo fantasma daquele, melancoliza, se imobiliza. Pode-se ler esta peça como a constante tentativa, por parte do jovem protagonista, de elaborar a dor da morte. O famoso monólogo 'Ser ou não ser...' trata deste tema; a acusação da morte do pai como crime cometido pelo tio e, de certo modo, também pela mãe, idem. O diálogo com os coveiros também. Além disso tudo, a peça nos mostra Hamlet utilizando da própria arte como tentativa de elaborar o trauma e, desse modo, nos lembrando que a própria tragédia escrita por Shakespeare existe para isso mesmo. Hamlet é investigado se se finge ou se está verdadeiramente louco; o fingir é um instrumento de elaboração, é parente do brincar...e não por acaso quando a trupe de atores chega, Hamlet os orienta a encenar a morte de seu pai, tentando extrair dali algum sentido e alguma verdade, e a peça dentro da peça é uma comédia, o que nos mostra a quasi-consciente tentativa de superar a tragédia através do distanciamento derrisório que o humor proporciona (FREUD, 1926).
 |
| Oscar Wilde |
5) Outro clássico da literatura inglesa, O retrato de Dorian Gray (1891), de Oscar Wilde, tal como a obra poética de dos Anjos já citada, é um belo estudo do narcisismo do homem moderno e de sua impetuosa vontade de eternidade. O protagonista, apaixonado por sua juventude, nega a própria morte; quem passa a putrefazer é sua imagem na pintura, enquanto ele próprio permanece numa eterna jovialidade que, aos poucos, por conta mesmo da sensação de onipotência acarretada pelo escamoteamento de sua finitude, vai se tornando um personagem perverso. Esta obra nos mostra os efeitos psíquicos e morais de nos afastarmos de nosso próprio desamparo, de nossa finitude, de arrogarmos uma potência que, de fato, não temos. Este tipo de não-relação com o horror do trauma apenas coloca o sujeito a, no final das contas, repetir compulsivamente a experiência traumática; Dorian, ao invés de reconhecer sua mortalidade, torna todos com quem se relaciona elimináveis; eis, quem sabe, uma chave interpretativa das subjetividades negacionistas, bem comuns na atualidade, e suas vicissitudes.
6) Finalmente, A montanha mágica (1924), de Thomas Mann, que foi escrito mais ou menos ao mesmo tempo em que seu amigo Freud publicava sua última teoria do trauma. Este longo bildungsroman nos apresenta um jovem alemão 'perdido na vida' que decide visitar um parente numa colônia de tuberculosos nos Alpes suíços. Passa, aos poucos, a considerar sua visita como uma longa permanência; decide fazer companhia ao parente e a morar na colônia entre doentes, moribundos e mortos. Hans Castorp 'se encontra' ali, no meio do frio, do gelo, da doença e da morte. Faz amizades, pratica experimentos espiritualistas, discute medicina, filosofia, se apaixona - cria laços: vive. O rapaz não tem horror à morte, ele aprende em ato que o convívio com isso que nossa cultura esconde, a morte, dá sentido à vida e, ao contrário, não ver, não falar sobre a morte nos deixa perdidos e - pior - nos faz sermos atravessados por ela com uma violência inassimilável, como a chegada da Primeira Guerra Mundial, no final da história, nos deixa entrever.
Portanto: leiamos, escutemos, escrevamos e falemos do trauma!
.jpg) |
| Thomas Mann |



Texto bastante interessante, obrigado pelas referências usadas, as buscarei em outro momento. Achei importante pontuar sobre como os grupos negacionistas de muitos modos impediram a experiência e elaboração do trauma das mortes pela Covid-19. Houve um momento muito curioso durante a pandemia, em que se dizia que a alta taxa de mortos era um número forjado. Negava-se a potência destruidoras do vírus e não só como uma forma de não se responsabilizar pelos cuidados básicos para evitar a proliferação, mas havia algo de um choque muito particular diante de uma situação que ninguém esperava. Estávamos todos amedrontados e é sempre muito curioso como algumas autoridades usam do medo como uma ferramenta para atingir seus objetivos. Da mesma forma que se negou o número de mortos, os mesmos grupos apontam para um número grande de pessoas que morreram após tomar a vacina. A morte é então negada, dentro de certos objetivos (impedir a discussão da irresponsabilidade do presidente, por exemplo) e apontada de novo, agora com outros objetivos, que são muitos (negar a necessidade e a eficácia das vacinas, aposta cega em tratamento precoce, etc). No final das contas, se faz um jogo com a experiência traumática, beirando a banalização (um retrato muito triste disso é o presidente fazendo piada, ao imitar uma pessoa agonizando com falta de ar, a característica do estado mais grave da doença).
ResponderExcluirPerfeito. Muito importante o comentário
Excluir